Este é o mais recente livro de António Barreto, que reúne artigos publicados no Diário de Notícias entre 2015 e 2017 e entrevistas feitas entre 2012 e 2017. O Observador publica um excerto do prefácio no qual o autor apresenta uma visão preocupada sobre a actualidade social, económica e política, em Portugal, na Europa e no mundo.
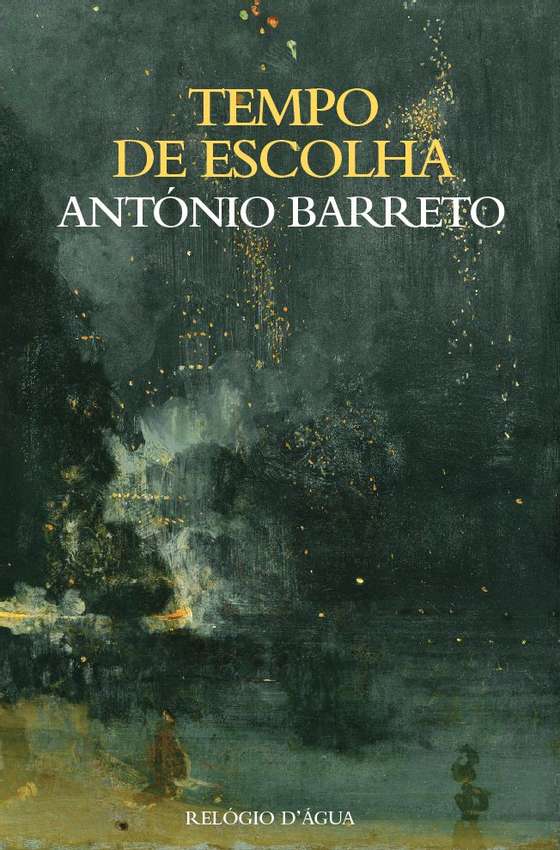
“Tempo de Escolha”, de António Barreto (Relógio d’Água)
“É um tempo sombrio, cuja definição é difícil. Será crepuscular e decadente? Ou será uma crise de transformação, uma metamorfose? Ou um pouco dos dois? Estes dois anos, com uma extraordinária sucessão de eleições e referendos (Áustria, Itália, Espanha, Grã-Bretanha, França, República Checa e Alemanha, aos quais se deveriam acrescentar, por razões óbvias, os Estados Unidos da América), estão a definir o futuro da União, da Europa e do Ocidente. É patente a enorme dificuldade em reorganizar uma União que consiga evitar o agravamento da crise actual e que seja capaz de assegurar a igualdade entre Estados e nações, quando a desigualdade é crescente e a Alemanha, quarta potência económica do mundo, consolida a sua hegemonia.
À diferença entre Estados é ainda necessário acrescentar a desigualdade social e económica a crescer em quase todos os países ocidentais, mesmo se todos os grupos e classes conhecem melhoramentos da sua condição. Os países ricos e os ricos de todos os países vêem as suas fortunas aumentar quase sem limites, o que, graças ao trabalho, à inteligência e ao esforço, pode ser justo, mas que se traduz frequentemente numa atitude de desdém pelos menos ricos, os remediados, os pobres e os miseráveis. Se é verdade que as desigualdades podem ser motores da História e do progresso, não é menos certo que também podem ser a causa da explosão social. A União Europeia tem diante de si dilemas impossíveis. Tem de escolher entre a igualdade e a hegemonia. Como tem de decidir entre a coesão e a fragmentação. Só se salvará se escolher o mais difícil: a flexibilidade.
Uma Europa que tentou garantir a uniformidade e a coesão não soube garantir a diversidade e a flexibilidade. O mito da igualdade a todo o preço ruiu, quando percebemos que a uniformidade com assimetria é mais violenta para os mais pobres e os mais fracos. Ao querer forjar uma igualdade artificial, a União expôs as fragilidades de vários países e várias regiões, levando a situações quase dramáticas.
Portugal partilha todas estas preocupações, faz parte dos problemas e bom seria que também fizesse parte das soluções. Ou pelo menos que fizesse ouvir os seus interesses nas soluções europeias. Continuo convencido de que é vantajoso para Portugal permanecer na União e manter o Euro. Não tenho a certeza de ambas as hipóteses. Até porque as questões económicas e financeiras ganharam uma tal complexidade e dependem de tantas circunstâncias internacionais, que uma opinião firme pode ser simplesmente crença teimosa. Mas parece-me que uma saída de Portugal do Euro seria, pelas consequências comerciais e sociais, pela incerteza e pela imprevisibilidade, um desastre económico. Mais ainda, uma saída da União seria dramática. A ideia de que não existe alternativa é evidentemente errada. Trata-se em geral de postulado inventado por quem defende um ponto de vista e não quer encarar a hipótese de outros pensarem de modo diferente. Existem alternativas à União Europeia. E, se fosse necessário, Portugal encontraria caminho alternativo. Mas, com o que se sabe hoje, esse caminho traria mais pobreza, mais incerteza e menos liberdade. Pertencer à União, mesmo com as dificuldades que esta atravessa, é mais uma maneira de eventualmente contribuir para o seu melhoramento. Não para a sua dissolução ou para o abandono, como pretendem os nacionalistas de direita e de esquerda. Mas para o seu melhoramento. Por isso é importante estar dentro e ter algo a dizer.
Ter uma voz na Europa transformou‑se numa esperança de todos, dos que querem essa voz para melhorar a nossa posição ou para diminuir os inconvenientes da integração, mas também dos que a querem para contrariar tudo quanto a União é e representa. “Ter uma voz na Europa” parece ser hoje um fenómeno de pensamento mágico: basta falar com a voz grossa! Basta falar alto com a Europa e as potências europeias, dizem uns! O que é preciso é dar um murro na mesa, afirmam outros! É preciso dizer não em voz alta e bom‑tom, garantem todos! Parece que, se Portugal fizer estas piruetas junto de Bruxelas, na Alemanha ou no FMI, venceremos! Esta espécie de voluntarismo adolescente é totalmente inútil, tem efeitos exclusivamente retóricos, alegra o eleitorado, contenta os fãs e inquieta todos os outros. Sendo certo que a submissão e a tibieza nunca são boas, a verdade é que a voz grossa não substitui o trabalho de casa, o pagamento das dívidas, a organização económica, a paz social, o apoio da população e a qualidade da sociedade em que se vive! Os Portugueses têm escolhas, mas estas não são entre a voz grossa e a voz fina! São entre cumprir os seus deveres ou não, governar com decência ou não, combater a corrupção ou não! Os Portugueses não podem escolher entre a tempestade e o bom tempo, mas podem, isso sim, em caso de tempestade, escolher quem os dirige, quem os pode orientar e ajudar a atravessar a tempestade. Podem escolher a frota, os navegantes e a rota. Mas têm de estar preparados para a borrasca.
Tanto em Portugal como na Europa e no resto do mundo, estes dois anos (o tempo destes artigos aqui coligidos) foram particularmente ricos em acontecimentos, bons e maus. Os maus são tantos e tão medonhos que quase nos habituámos, naquela que é uma real perversão da natureza humana: acostumámo‑nos ao horror, já não temos sensibilidade ao sofrimento e até somos capazes de pensar que a violência tem qualidades estéticas! As guerras no Próximo Oriente, os caudais de refugiados e de miseráveis que atravessam ou morrem no Mediterrâneo e o terrorismo islâmico por todo o sítio foram constantes neste tão curto período. Ofereceram‑nos imagens e relatos de arrepiar, como as cidades destruídas de Mossul ou de Alepo, os adolescentes assassinados numa sala de concertos em Manchester ou os barcos preparados para fazer flutuar e de vez em quando afundar milhares de refugiados, de modo a desencadear emoções e solidariedade.

JOSE COELHO/LUSA
O mundo ocidental, os prósperos Estados Unidos e a culta e pacífica Europa vivem dias difíceis e instáveis. A França vive há mais de um ano em “estado de urgência” e a eleição surpreendente de um novo e inesperado Presidente da República ainda não é suficiente para alterar o caminho inquietante dos últimos tempos. A Grã‑Bretanha decidiu sair da União Europeia. Em vários países, os movimentos contra o Euro e a UE ganham robustez. Também as manifestações contra a democracia ou contra os estrangeiros se sucedem. Há países em cuidados financeiros intensivos, sempre na iminência do colapso, sem que se preveja o fim da emergência.
Pior do que tudo, evidentemente, o terrorismo sob todas as suas formas: colectivo, organizado, solitário, premeditado ou espontâneo. Com apoio de Estados, de partidos, de religiões, de empresas, de traficantes ou de bandidos. Visando tudo e todos, sobretudo civis, gente indefesa, trabalhadores, empresários, políticos e turistas. Com e sem conotação religiosa, nacional, étnica ou sexual. Na origem, também pode variar, mas é o terrorismo islâmico, particularmente cruel e feroz, que marca os anos em curso.
Bem podemos afirmar, nervosamente, que não nos rendemos, que não nos deixaremos derrotar e que não faremos o que “eles” querem, isto é, não deixaremos de viver como queremos e entendemos, nem abdicaremos das nossas liberdades. Repetiremos essas profissões de fé com força. Mas sabemos que mudámos e que já não vivemos como gostávamos. Temos medo e razão para o ter, só os políticos e os irresponsáveis, por motivos diferentes, afirmam não ter e criticam quem tenha. Receamos os autores do terrorismo, como receamos as reacções que o terror desencadeia. Estamos conscientes de que as fronteiras das liberdades individuais, da discrição e da privacidade recuaram e foram tantas vezes injustamente atravessadas. E não acreditamos que seja possível voltar a viver períodos de tranquilidade despreocupada. Até porque não é apenas o terrorismo que ameaça a serenidade ocidental. São também a instabilidade política, a incerteza social, a desigualdade crescente, o elevado desemprego e as crises económicas em cada esquina! Os anos dourados do período que se iniciou depois da guerra terminaram há muito, duas ou três décadas. E os anos dourados do pós‑comunismo nunca chegaram a acontecer.
Em Portugal, depois de quase vinte anos sem crescimento e de seis de austeridade, parece haver, nas novas circunstâncias europeias e nacionais, uma pausa nas dificuldades, mesmo antes de haver recuperação consolidada e hipótese de desenvolvimento. Se é verdade que muitos dos grandes problemas portugueses existentes antes do dito programa de assistência (vulgo acordo com a troika) se mantêm, também é certo que o governo da direita conseguiu resultados valiosos, já visíveis em 2015. E que o governo da esquerda obteve indiscutível êxito, nomeadamente orçamental e muito especialmente no domínio da paz social. Mas sabemos que os grandes problemas ainda estão aí, quase intactos. Vai ser preciso muito mais do que só habilidade empírica, sorte e clima económico favorável. Em meados de 2017, o crescimento é insuficiente e o investimento é ainda escasso. O endividamento e o seu serviço são muito grandes. A poupança é reduzida. O desemprego ainda é elevado. Se o governo de esquerda conseguisse, nos próximos dois anos, melhorar significativamente todos estes aspectos hoje francamente negativos, teria um sucesso inesquecível. Mas o essencial seria que, esquerda e direita, uma parte essencial da esquerda e da direita, poder e oposição, com ajuda do Parlamento e do Presidente da República, se entendessem em determinar regras de conduta que permitissem que o país não tivesse de voltar aos procedimentos por défices excessivos, aos programas de austeridade e assistência financeira internacional e aos resgates que anunciam a bancarrota. Foram três vezes, em cerca de trinta anos! É de mais e ficam na História como certidões de falhanço de uma geração de dirigentes políticos e económicos.
No centro destes problemas, bem no âmago das nossas dificuldades presentes, está o endividamento individual, familiar, empresarial, privado e público. Este último, olhado tantas vezes com tolerância e até festejado como virtude, foi e é actualmente uma das grandes ameaças à democracia. A maior parte dos Estados apoiou e encorajou o endividamento. Os bancos estimularam. A perversão foi tão longe que os devedores, hoje, continuam a afirmar que a dívida é um direito, que quem deve tem razão de se endividar e que os credores têm a obrigação de dar, de pagar e de perdoar!
É sabido que os problemas mais urgentes são económicos e financeiros. Mas estão longe de ser os únicos. A gravidade da situação na justiça é de igual dimensão e valor. Os últimos dois anos, tal como os passados sete, ou ainda como os últimos dez ou quinze, confirmaram um sistema de justiça que, sendo eventualmente capaz de solucionar mil casos de rotina, é absolutamente incapaz de resolver satisfatoriamente os grandes processos que envolvem nomes sonantes da sociedade, casos de corrupção e negócios de Estado e fenómenos de promiscuidade entre política e negócios públicos e privados.
Ao abrigo desta ineficácia, talvez não por coincidência, grande parte da chamada “ética republicana” é fachada ou ilusão. Há decisões políticas que são tomadas em função dos negócios promissores, favores a amigos, partido ou parentes, ou que criam direitos e mandam fazer obras inaceitáveis, erradas ou prejudiciais, mesmo se lícitas. As grandes empresas públicas de serviços, comunicação, banca ou indústria foram utilizadas para obter lucros indevidos em benefício de políticos e empresários e para favorecer grupos privados nacionais ou estrangeiros aquando dos processos de privatização.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Os processos de inquérito, de investigação e de instrução esticam-se e prolongam-se, fazem hoje parte da paisagem política nacional. Já não há jornais nem serviços noticiosos de televisão sem tais processos, que alimentam a intriga e a suspeita ou estimulam o boato e a desconfiança. Passam-se anos de eventual inquérito sem que os prováveis arguidos vejam os seus direitos assegurados. Podem decorrer anos de investigação sem acusação. E até, como se viu em vários casos célebres, podem anos de prisão preventiva nada significar, a não ser matéria-prima para a maledicência. Sem meios à altura, sem direitos nem deveres suficientes, as autoridades e as entidades especializadas em investigação procuram o que encontram, em vez de encontrar o que procuram. Daí o uso intensivo e seguramente abusivo das escutas e da interferência no correio e outras formas de comunicação. Com direitos frágeis e deveres incertos, é a liberdade individual que está em causa. Sem justiça à altura, é a liberdade que está em crise.
Reconheçamos que não é fácil viver num país onde, em dez ou quinze anos, um primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado, líder de grupo parlamentar, deputados, directores-gerais, presidentes de instituições públicas, chefes de polícia, banqueiros, empresários, inspectores de várias polícias e dirigentes de clubes de futebol foram presos, investigados, escutados, interrogados, arguidos, julgados (nem todos…) e condenados (muito poucos…). Consta que praticamente ninguém viu o seu processo transitado em julgado, isto é, definitivamente terminado. As acusações, quando as há, cobrem todo o espectro do banditismo dito de colarinho branco, do roubo e da fraude, à corrupção pessoal e partidária mais brutal, passando pelo favoritismo descarado, pelo infame nepotismo e pelo enriquecimento ilícito. O clima moral em que se vive, nestas circunstâncias, é deprimente. O exemplo dado por quem deveria saber mais e melhor é desprezível. Pior ainda, estes comportamentos não punidos transformam-se em incitamento. A democracia também é, infelizmente, o regime da pulhice para todos, não só da virtude.
No momento actual, em que se debate e questiona a democracia e suas tradições, verificámos que até a coincidência entre Europa e democracia pode estar em discussão. Na verdade, há sinais de que nem sempre a comunidade europeia ou a União conseguem salvaguardar e reforçar a democracia e as liberdades individuais e públicas. Parece que surgiram clivagens ou brechas na relação entre a União e os Estados nacionais.
É verdade que a democracia está ligada à nação e ao Estado. Há qualquer coisa de territorial na democracia, tal como existe território na nação e no Estado. O território significa identidade e reconhecimento, assim como estabelecimento de população. O território quer também dizer limite da comunidade e seus sinais. O que implica necessariamente fronteiras. O nacionalismo e o patriotismo modernos estão ligados à democracia e à participação crescente das massas, dos povos e dos cidadãos na vida política. O poder político, dependente do voto e das opiniões dos cidadãos, pode ser influenciado pelos povos democráticos. E por ideais nacionalistas e patrióticos.
Durante as últimas décadas, com a ajuda do dinheiro, das obras e do desenvolvimento, o cosmopolitismo europeu levou de vencida os nacionalismos. Mas nunca a questão das nações, dos cidadãos e da sua identidade foi resolvida definitivamente ou pelo menos satisfatoriamente. Quando se fala, com crescente frequência, da distância entre a União e os cidadãos, aquilo de que se está a falar é também do conflito possível entre União e nação, entre UE e os Estados, entre União e as identidades nacionais.
Mais complexo ainda é o facto de que, cada vez que há crise, uma das primeiras reacções ser de carácter nacional. A UE, seriamente adversária das nações, preferiu sempre ignorar, afastar ou mascarar o problema nacional e a questão nacional. Chama‑se a isso “afogar o peixe”… Há certas coisas que, quando se afastam ou se escondem, voltam sempre. A questão nacional é uma delas!
O regresso do nacionalismo, pela mão das elites ou por via dos povos, é perigoso e poderá mesmo ser um retrocesso da liberdade e da civilização. Mas esquecer as nações e comportar-se como se não houvesse nacionalidades ou como se estas fossem apenas nefastas é um gravíssimo erro! Que pode ser contraproducente. Afastar a nação pode ser simplesmente provocar o nacionalismo. Com essa designação ou com a outra, aparentemente menos inquietante, de patriotismo, a ressurreição do nacionalismo não anuncia nada de bom. Mas, repita-se, a ignorância pura e simples da questão das identidades nacionais é um erro imperdoável. De graves consequências, quanto mais não seja o alimento assim dado ao nacionalismo.
É possível afirmar que Portugal está tão mal quanto a Europa há já bastantes anos. Pouco ou menor crescimento. Muito desemprego. Desenvolvimento de forças políticas e opiniões extremistas, radicais e antiliberais. Ou a tolerância com o endividamento. Há muitos países europeus, entre os quais a poderosa França, por exemplo, onde se detectam tão maus sinais quanto em Portugal. Tudo isso é verdade. Mas Portugal faz pior do que a Europa. Por causa dos “choques assimétricos” (quando os outros estão bem, nós estamos melhor ou igual; quando os outros estão mal, nós estamos muito pior…). Por causa da fragilidade estrutural, mas sobretudo por causa dos Portugueses. De todos, em especial dos políticos, dos governantes, dos banqueiros, dos empresários e dos sindicatos. Em muitos aspectos, podíamos estar melhor, podíamos ter feito melhor. Na justiça, por exemplo. Na luta contra a corrupção. Na educação. Nos negócios de Estado, incluindo as PPP, os swaps e outras variedades imaginativas. Na gestão das grandes empresas públicas ou com participação pública. Na banca e no sistema financeiro. E nas decisões ruinosas e erradas (estradas, pontes, aeroportos, parques industriais, etc.). E mais, certamente, onde não eram precisos muitos meios nem capitais inexistentes. Se em muitos aspectos nos podemos queixar também da Europa e da globalização, em muitos outros só nos podemos queixar de nós. Dez ou quinze anos de crescimento nulo são principalmente culpa nossa!
E vinte de crescimento insignificante não são culpa de ninguém a não ser nossa! A desculpa externa, o bode expiatório externo, a culpa que vem do exterior sempre funcionou em Portugal. Inimigos, riscos e perigos vêm sempre de fora. O que corre mal, para quem está no poder, vem de fora. Comunistas, terroristas, colonizadores, imperialistas, exploradores, extorsão financeira, exploração, ágio e ideias subversivas: vêm todos do exterior. Mas a verdade, em última linha, com excepção da agressão pura e simples, é a de que a culpa vem sempre de nós, das nossas falhas, das nossas insuficiências, dos nossos erros e das nossas dívidas. E a dificuldade em encontrar quem reconheça as suas faltas, as nossas faltas, a fim de as corrigir e evitar no futuro, fundamenta um pessimismo de rigor.
O meu optimismo é nulo. Quase absolutamente nulo. Não há sinais suficientes que estimulem o optimismo. Invenções, clima de paz, cooperação, investimento, emprego, imaginação criativa nos negócios, educação a progredir, serviço de saúde a melhorar todos os dias, os volumes de impostos a descer, a racionalidade das decisões a aumentar, a poupança a crescer, a participação política a aumentar, o Parlamento a legislar devagar e competentemente, a justiça a funcionar melhor, as filas de espera nos serviços públicos a diminuir, nada… É possível que haja, nos meses recentes e nos futuros, alguns sinais anunciadores. Mas que é isso de fundar a alegria em meses, quando o que precisamos é de anos constantes de trabalho e disciplina?
Aqui e ali, há uns sinais de tranquilidade, por motivos de circunstância e oportunidade, ou mesmo oportunismo, mas não sabemos quanto tempo duram… A relativa paz social, muito relativa, cria um clima propício à cooperação, mas estamos muito longe de uma situação estável nas tensões e dinâmica na criatividade. O governo das esquerdas conseguiu dar um contributo para essa paz social. Mas sente-se que há em permanência uma tensão para que os partidos mais radicais queiram mais e estejam a forçar o andamento. Uns sinais débeis de melhoramento económico na Europa e em Portugal dariam algum conforto. O clima de distensão inaugurado pelo Presidente da República tem ajudado também. Mas estamos a falar de pequenos sinais, de luzes bruxuleantes… Ora, precisamos de anos de desenvolvimento e de investimento. De gerações de cientistas e empresários. De uma multidão de técnicos e profissionais. Esses sinais essenciais, essa massa crítica humana, estão em falta e só a estabilidade, a constância e a disciplina lhes podem dar vida.
O único factor que alimenta algum optimismo é simplesmente a esperança. Quem já viu tanto, da ditadura à pobreza, do analfabetismo à doença, da desigualdade ao racismo, quem já viu tudo e também viu que se pode impedir, mudar e cessar não pode senão pensar, com esperança, que os seres humanos sejam capazes, com os formidáveis meios que têm ao seu alcance, de rever e reavaliar, de repensar e corrigir.”

















