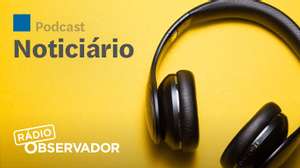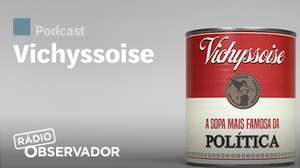Índice
Índice
O tamanho importa, pelo menos na resistência à crise. Numa altura em que são sobretudo as pequenas e médias empresas que sofrem com a redução da atividade económica e com as restrições impostas pelo Governo para tentar controlar a epidemia, o Banco de Portugal avançou com um estudo no boletim económico de março que destaca o aumento médio da dimensão das empresas no país nos últimos anos. E à boleia deste estudo, Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, considera que é um sinal positivo da economia portuguesa para os próximos anos — uma fonte de “resiliência” face aos desafios que (ainda) se avizinham. Resta saber até que ponto a pandemia vai contribuir para este movimento.
E não são poucos os desafios que se colocam à economia portuguesa. O Banco de Portugal acredita que quando o país sair do confinamento, haverá um crescimento forte, atingindo na segunda metade de 2022 os níveis de riqueza de 2019, só que essa dinâmica é dependente de muitas variáveis — e de vários riscos — que o Banco de Portugal também deixa presentes no boletim económico de março.
“Apesar dos progressos no controlo da pandemia”, sublinha o supervisor, “a evolução da economia portuguesa ao longo do horizonte de projeção permanece rodeada de incerteza”.
Apresenta, por isso, cenários alternativos que são bastante díspares entre si. Se tudo correr como o Banco de Portugal indica no cenário central, a economia vai crescer 3,9% este ano, 5,2% no próximo ano e 2,4% em 2023.
Se — ainda melhor — num cenário dito “favorável”, a procura externa dirigida à economia portuguesa apresentar “um crescimento mais acentuado do que nas projeções apresentadas” no cenário central, atingindo “o nível pré-pandemia no final de 2022”, então a economia vai poder ‘voar’ 4,7% em 2021, 5,4% em 2022 e 2,3% em 2023.
Mas se a procura externa crescer menos em 2021 e 2022, ficando ainda abaixo dos níveis anteriores à pandemia em 2023, tudo fica mais complicado. Nesse cenário “adverso”, em que os preços externos são também “mais contidos” nestes três anos, a economia cresce apenas 1,6% este ano, 3,2% em 2022 e 3,2% em 2023.
Alguns dos riscos identificados pelo Banco de Portugal serão fundamentais para perceber o rumo que a economia portuguesa pode ou não levar nos próximos tempos.
Quando é que a pandemia vai (finalmente) ser controlada?
É a grande incógnita, que condiciona tudo o resto — será que ainda em 2021 a pandemia estará para trás das costas? “Ao contrário de outros períodos, a maior incerteza concentra-se no curto prazo e decorre da incerteza quanto à evolução da pandemia e do processo de vacinação”, nota o Banco de Portugal.
O “melhor controlo das infeções e o levantamento mais rápido das medidas de contenção” serão fundamentais para uma “redução da incerteza” e o “aumento da confiança dos agentes económicos”. Se assim for, o cenário “favorável” alternativo apresentado pelo Banco de Portugal poderá ser um pouco mais realista.
No entanto, nada disso é certo. E, por isso, no cenário “adverso”, o Banco de Portugal admite que possa haver “uma disseminação mais gradual da vacina” e que o surgimento de novas variantes possa permanecer uma ameaça, “podendo traduzir-se em novos períodos de confinamento e restrições à circulação entre fronteiras ao longo de 2021”. E sim, para que não haja dúvidas, estamos a falar ainda de 2021.
“Além do impacto negativo na confiança dos agentes económicos, a manutenção de medidas de contenção e os receios de contágio implicam uma evolução mais contida do consumo privado, em particular de serviços mais expostos ao contacto pessoal”, sublinha o supervisor.
Na apresentação do boletim económico, Mário Centeno recordou que há poucos meses, em dezembro, “ainda não havia nenhuma vacina aprovada na União Europeia” e que agora “a realidade é distinta”, com redução de alguns riscos associados à pandemia. “Mas eles permanecem”, avisa o governador do Banco de Portugal. “Nós ainda não temos a sensação de a pandemia estar sob controlo e há algum recrudescimento — localizado, mas ainda assim em muitos lugares e em muitos países, por exemplo, na Europa”.
Vão os portugueses gastar as poupanças?
Outra preocupação do Banco de Portugal tem que ver com a taxa de poupança. Se os portugueses gastarem este ano o que pouparam nos últimos tempos — os que conseguiram poupar — será mais fácil uma retoma em condições da economia portuguesa. Caso contrário, também aqui as contas se complicam.
É certo que a crise representou uma quebra de rendimento para muitos portugueses, nomeadamente para quem ficou desempregado, ou teve sujeito a layoff com apoios que não cobriram totalmente o salário, mas houve também poupanças “forçadas” nesta crise — a ausência de férias ou de gastos recorrentes em restaurantes são apenas alguns dos exemplos. Por isso, a taxa de poupança aumentou para 12,8%, segundo dados do INE divulgados esta sexta-feira, bem acima dos 6,8% de 2019.
Resta saber o que farão os portugueses com esse dinheiro poupado. No cenário ideal, o Banco de Portugal admite que o consumo privado possa crescer “acima do considerado nas projeções” do boletim económico, com implicações sobretudo este ano, ou seja, subiria 3,1% em vez de 2%. As poupanças dos portugueses (com uma taxa “temporariamente inferior à observada antes da crise”) voltariam assim para as caixas registadoras das empresas, que é como quem diz que a economia cresceria a um ritmo mais elevado. “Assume-se que as famílias gastam parte da poupança acumulada em 2020, em larga medida de natureza forçada, o que permite repor mais rapidamente a despesa adiada durante a pandemia”.
No cenário alternativo — um filme de terror para as empresas em Portugal — “a taxa de poupança permanece acima da taxa de longo prazo”. Aqui, o consumo privado “cresce marginalmente em 2021 (0,4%) e recupera de forma mais moderada (3,6% em 2022 e 2% em 2023)”, pelo que “apenas no final do horizonte de projeção, o consumo privado atinge o nível pré-pandemia”. Um cenário que seria o desastre para muitas empresas.
Mário Centeno avisa que “não seria a primeira vez que processos de crise desta natureza estariam associados a alterações mais estruturais do comportamento das famílias e a uma redução mais lenta da taxa de poupança”. Algo que “traria obviamente consequências para o ritmo de crescimento económico”.
Entre os dois cenários, o Banco de Portugal admite que a taxa de poupança regresse ao nível pré-pandemia até 2023, com as famílias “a manterem reservas adicionais num ambiente de incerteza ainda elevada, em que a taxa de desemprego permanece acima do nível pré-pandemia”.
3, 2, 1… E se a bazuca não disparar bem?
A par do processo de vacinação, a chamada “bazuca europeia” — o pacote de estímulos económicos da União Europeia — será um dos fatores que leva o ministro das Finanças, João Leão, a ver “uma luz ao fundo do túnel”, como referiu esta sexta-feira na conferência de imprensa que serviu para reagir aos números do défice do ano passado.
Não é à toa. Estão em causa para a economia portuguesa 13,9 mil milhões de euros (correspondentes a 6,5% do PIB de 2019), que deverão ser gastos até 2026. Isto só em subvenções — fora os empréstimos, que, se forem acionados, podem chegar aos 14,2 mil milhões de euros.
O Banco de Portugal aponta para que, na sequência desse Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “o nível do PIB em 2026 seja entre 1,1% e 2,0% superior” (apenas tendo em conta as subvenções). “No curto prazo, o estímulo do PRR transmite-se à economia através do aumento do investimento, que desencadeia um aumento da procura interna, das importações e do emprego”. Além disso, “as exportações também aumentam, beneficiando do estímulo ser coordenado na Europa”. E, a médio prazo, “com a acumulação de stock de capital, aumenta a capacidade produtiva da economia”. Mas não só, tendo em conta que, “a modernização do stock de capital e a adoção de novas tecnologias aumentam a eficiência com que os fatores produtivos são utilizados”.

▲ Os novos fundos europeus deverão contribuir para um aumento do PIB, mas o Banco de Portugal deixa avisos
NurPhoto via Getty Images
Com tantas vantagens, o que é que pode correr mal? São tantos os “fatores de incerteza interrelacionados que podem condicionar os resultados apresentados” que será mais fácil listá-los:
— “as limitações dos instrumentos analíticos utilizados, em particular para a avaliação do impacto na PTF [produtividade total dos fatores]”;
— “o perfil temporal de entrada dos fundos”;
— “a capacidade de absorção dos mesmos, que pode influenciar o grau de sobreposição do PRR face aos planos pré-existentes”;
— “a repartição entre investimento público, investimento privado ou despesa corrente”;
— “a posição cíclica da economia”;
— “as eventuais externalidades positivas das reformas associadas ao PRR, nomeadamente na melhoria do ambiente de negócios e da atratividade do investimento”;
— “a eficiência do investimento realizado”;
— “e a capacidade institucional para selecionar e executar projetos viáveis”.
São aspetos que se prendem, “em larga medida com as questões de implementação – prazos e agilização – e governação – controle, transparência e eficiência dos projetos – do PRR”, sublinha o Banco de Portugal.
Se tudo correr bem, este dinheiro pode “traduzir-se em poupanças de despesa pública e privada no futuro”, que — se usadas de forma eficiente — levarão “ao aumento da capacidade produtiva”.
Só que o Banco de Portugal deixa bem claro o que está em causa: “A magnitude do estímulo financeiro e os prazos de execução do plano constituem desafios importantes à sua implementação”. E “o impacto permanente destes fundos depende da capacidade de Portugal para absorver recursos disponíveis e gerar um fluxo mais permanente de atividade, que sobreviva ao período em que os estímulos financeiros ocorrem”.
Até que ponto vão as empresas resistir?
Mário Centeno assume que “a resiliência das empresas” é “um foco de preocupação”. “Nós temos uma capacidade muito significativa de retenção de emprego nas empresas em Portugal, em 2020”, sublinhou o ex-ministro em conferência de imprensa, tendo em conta que o Governo, tal como muitos outros por todo o mundo, deu apoios que sustentaram o mercado de trabalho. E o “comportamento do investimento é muito positivo”.
Mas será que tem condições para durar? “As dúvidas que podem assumir papel de riscos são precisamente focadas na capacidade que as empresas possam ter de manter este comportamento ao longo do período de recuperação”, refere Mário Centeno.
O governador entende que Portugal chegou a este ponto de “resiliência” porque houve convergência económica nos últimos anos com a média europeia. “Portugal cresceu acima da área do Euro entre 2016 e 2019 de forma consecutiva”, sublinhou Centeno, repetindo uma ideia que assinalou várias vezes como ministro das Finanças.
Por outro lado, Mário Centeno atribui ainda essa capacidade ao tecido produtivo. “Nos últimos anos, entre 2016 e 2019, as empresas em Portugal viram a Formação Bruta de Capital Fixo [investimento] crescer muito significativamente” — cerca de 55% neste período, segundo dados do INE citados pelo governador. Além disso, a produtividade também teve um acréscimo, de 10%, “em particular as pequenas e médias empresas”, que viram este indicador crescer 15%; e houve uma redução do endividamento das empresas “muito significativo”, mais uma vez nas PME.
Isto fez, segundo Mário Centeno, “que as empresas desenvolvessem abordagens distintas face à crise”. E um movimento em particular é considerado pelo governador como “muito, muito relevante” — os depósitos aumentaram mais de 9 mil milhões de euros, ou 192%, em cerca de um ano — o triplo face ao ano anterior.
“Nunca antes, na série de depósitos do Banco de Portugal, os depósitos das empresas em Portugal tinham aumentado um número parecido com este”, notou Centeno, que destaca a grande diferença, por exemplo, face às crises anteriores — a que motivou o resgate da Troika e a crise financeira iniciada em 2008.
São fatores que, para o governador do Banco de Portugal, “dão alguma confiança”. Mas Mário Centeno insiste que é preciso ter atenção aos “desafios, que são muitos, da economia portuguesa no futuro”.

▲ As medidas de confinamento para fazer face à pandemia deixaram várias empresas no fio da navalha
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
O tamanho também conta para ultrapassar a crise
Quando os confinamentos estavam a alastrar-se por toda a Europa, na primeira vaga, análises feitas ao impacto potencial da pandemia nos diferentes países admitiam que Portugal estaria entre aqueles que poderiam sofrer um pouco mais do que os outros com esta crise, em parte — mas não só — por ter uma quantidade de micro e pequenas empresas ainda maior do que os outros parceiros europeus.
Cerca de um ano depois, este foi um dos pilares de resiliência destacados por Mário Centeno na apresentação do boletim económico — que traz um destaque sobre a dimensão das empresas. Para o governador do Banco de Portugal este é um “fator muito, muito importante” quando se fala de empresas em Portugal.
Mário Centeno recorda que “o resultado mais estabelecido para a nossa economia era uma redução secular da dimensão média das empresas”, mas que os dados mostram uma alteração da tendência a partir de 2013. “Este aumento da dimensão média das empresas é uma tendência virtuosa, porque nós sabemos, com base nos resultados de todas as economias — não é só para Portugal — que as empresas maiores são mais resistentes, exportam mais, pagam salários mais altos e são mais produtivas”, defendeu Centeno.
“Este crescimento médio da dimensão das empresas é um sinal positivo para a economia portuguesa, é uma alteração importante” — considerou o ex-ministro — “também quando queremos pensar o futuro e saber o que é que, num horizonte de três anos, a economia portuguesa pode dar de resposta a esta muito violenta crise que enfrentamos”.
Alguns desses argumentos são desenvolvidos no destaque do Banco de Portugal dentro do boletim económico, que analisa a dimensão das empresas até 2018. O supervisor recorda que há estudos que mostram “a existência de uma relação positiva entre a dimensão média das empresas e o grau de desenvolvimento dos países” e sublinha que “a evidência empírica recente sustenta esta hipótese”.
Desde logo, diz o supervisor, está mostrada uma “correlação forte e positiva entre a dimensão média das empresas e o nível de rendimento per capita”. E “é sabido que as empresas maiores tendem a ser mais produtivas”, e não só “pagam, em média, salários mais altos” como “têm maior propensão a exportar” e “uma taxa de sobrevivência mais elevada”.